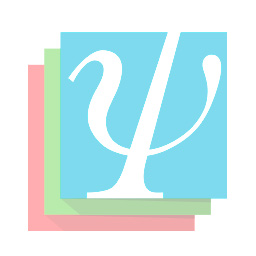Repositorio de Artículos | Congreso Virtual Internacional de Psiquiatría, Psicología y Salud Mental (Interpsiquis) | XII Edición | 2011
REPERCUSIONES ÉTICAS DEL PROCESO PSICOLÓGICO DE FORMACIÓN DE CERTEZAS: UN ENFOQUE TOMISTA.
Autor/autores: Lamartine de Hollanda Cavalcanti Neto
RESUMEN
El papel del proceso psicológico de formación de las certezas y sus repercusiones éticas en las actividades clínico-diagnósticas son investigadas a la luz de la Psicología Tomista en el presente estudio. Para eso, son analizadas las actitudes básicas frente a los juicios de valor, las cosmovisiones que les dan sustentación, el papel de la cogitativa, del sentido del ser, del conocimiento por conaturalidad y de los primeros principios en el conocimiento humano, bien cómo su relación, sea para el éxito, sea para el fracaso, con la consolidación de las convicciones. La conclusión resalta la utilidad de esos conocimientos teóricos y de su utilización práctica para los diversos tipos de actividad valorativa, especialmente en el ámbito de la salud.
Palabras clave: Psicologia Tomista, Ética, Bioética.
Tipo de trabajo: Comunicación
Área temática: Psicología general .
Médico psiquiatra, professor de Psicologia no Instituto Filosófico Aristotélico-Tomista, especialista em
Teologia Tomista pelo Centro Universitário Ítalo Brasileiro e doutorando em Bioética pelo Centr
CERTEZAS: UN ENFOQUE TOMISTA.
PSICOLÓGICO
DE
FORMACIÓN
DE
REPERCUSSÕES ÉTICAS DO PROCESSO PSICOLÓGICO DE FORMAÇÃO DE
CERTEZAS: UM ENFOQUE TOMISTA.
Lamartine de Hollanda Cavalcanti Neto.
Médico psiquiatra, professor de Psicologia no Instituto Filosófico Aristotélico-Tomista, especialista em
Teologia Tomista pelo Centro Universitário Ítalo Brasileiro e doutorando em Bioética pelo Centro
Universitário São Camilo. As três instituições estão situadas em São Paulo, Brasil.
lamartine.cavalcanti@gmail.com
Psicologia Tomista, Ética, Bioética.
RESUMEN:
El papel del proceso psicológico de formación de las certezas y sus repercusiones éticas en las
actividades clínico-diagnósticas son investigadas a la luz de la Psicología Tomista en el presente
estudio. Para eso, son analizadas las actitudes básicas frente a los juicios de valor, las
cosmovisiones que les dan sustentación, el papel de la cogitativa, del sentido del ser, del
conocimiento por conaturalidad y de los primeros principios en el conocimiento humano, bien cómo
su relación, sea para el éxito, sea para el fracaso, con la consolidación de las convicciones. La
conclusión resalta la utilidad de esos conocimientos teóricos y de su utilización práctica para los
diversos tipos de actividad valorativa, especialmente en el ámbito de la salud.
O papel do processo psicológico de formação de certezas e suas repercussões nas decisões
de cunho ético relacionadas com as atividades clínico-diagnósticas são investigados à luz da
Psicologia Tomista no presente estudo. Para isso, são analisadas sumariamente as atitudes básicas
face aos juízos de valor, as cosmovisões que lhes dão sustentação, o papel da cogitativa, do senso
do ser, do conhecimento por conaturalidade e dos primeiros princípios no conhecimento humano,
bem como sua relação, seja para o êxito, seja para o fracasso, com a consolidação das convicções.
A conclusão ressalta a utilidade desses conhecimentos teóricos e de sua utilização prática para os
diversos tipos de atividade judicativo-valorativa, especialmente no âmbito da saúde.
1
12º Congreso Virtual de Psiquiatría. Interpsiquis 2011
www.interpsiquis.com - Febrero-Marzo 2011
Psiquiatria.com
REPERCUSIONES ÉTICAS DEL PROCESO
CERTEZAS: UN ENFOQUE TOMISTA.
PSICOLÓGICO
DE
FORMACIÓN
DE
Introdução
Para o profissional de saúde, o estudo da atividade judicativo-valorativa do ser humano é de
especial interesse, uma vez que ela se manifesta nas mais diversas atividades do nosso quotidiano,
tendo repercussões em todas as fases do acompanhamento do processo saúde-doença.
Dado que somos dotados de livre-arbítrio, nossos atos são passíveis de avaliação, podendo ser
considerados acertados ou falhos. A grande dificuldade consiste, porém, na seleção dos critérios
segundo os quais esses mesmos atos serão avaliados.
Não é outro o motivo pelo qual, desde os primórdios da Historia, o interesse dos estudiosos,
legisladores e administradores volta-se para o assunto, constituindo, com o passar dos séculos, todo
um acervo doutrinário que inclui a Ética, a Moral e, mais recentemente, a Bioética (PEGORARO,
2006).
Os critérios de avaliação ético-moral são dotados de elementos objetivos e subjetivos, e variam
conforme as diversas escolas teóricas. Por mais que variem, contudo, alguns desses elementos
tendem a ser perenes. Embora possa parecer paradoxal à primeira vista, tal perenidade pode ser
considerada maior em alguns de seus elementos subjetivos, no sentido de que são inerentes à
natureza humana. Dentre esses, destaca-se o processo psicológico de formação de certezas que
acompanha os julgamentos ético-morais.
Tal processo é ontologicamente o mesmo, seja qual for a faixa etária, o sexo, as condições sócioculturais, as características étnicas ou ambientais daqueles em quem ele ocorre, pressupondo a
preservação do seu estado de saúde mental e física, dado que a natureza humana continua sendo a
mesma em todos.
Enriquecendo os esforços promovidos por outros enfoques ou escolas teóricas empenhadas na
sincera procura do conhecimento, a Psicologia Tomista (ALIBERT, 1903; CANTIN, 1948; BRENNAN,
1960; FAITANIN, s.d.; GALLO, s. d.) oferece elucidações significativas sobre o assunto. Tais aportes
serão tanto mais importantes quanto mais especialmente estiverem ligados a tomadas de decisões,
com suas respectivas repercussões éticas, relacionadas com atividades próprias ao âmbito da
atenção à saúde.
Um profissional de saúde poderia estranhar, entretanto, a referência a um teólogo e filósofo
medieval como São Tomás de Aquino, ao tratarmos do assunto. Contudo, as repercussões dos seus
ensinamentos aplicados à presente temática são tão relevantes que, apesar de declarar não
defender nenhuma tese "por meio de um apelo à autoridade de qualquer pessoa ou grupo", Finnis
(2007, p. 12) introduz um de seus trabalhos mais apreciados reconhecendo que se refere com
freqüência a São Tomás "por ele ocupar, de qualquer ponto de vista, um lugar estratégico singular
na história da teorização sobre a lei natural", base para toda espécie de julgamento ou ação
valorativa. Seus "direitos de cidadania" no mundo acadêmico já foram objeto de outros comentários
nossos, motivo pelo qual seria supérfluo repeti-los aqui1.
É para essas elucidações tomistas que se volta o presente estudo, no intuito de contribuir para sua
utilização prática na atividade clínica, em suas diversas especialidades, mas mais especialmente
naquelas ligadas aos dilemas e deliberações da esfera bioética.
Contextualização do enfoque tomista
Uma análise das diversas correntes teóricas que versam sobre o tema nos permite identificar, ainda
que em linhas gerais, pelo menos dois grandes eixos atitudinais em torno dos quais giram as
cosmovisões ético-morais que precedem os processos judicativos, propiciando-lhes maior ou menor
grau de certeza. Um se baseia no predomínio da razão, e o outro, embora sem negar o papel desta,
se deixa mover mais pelos sentimentos e/ou emoções.
Um exemplo paradigmático desta última corrente poderia ser encontrado na opinião de Segre
(2001) sobre o assunto:
Toda discussão ética, a partir de Descartes, utiliza apenas a razão como instrumento.
(...) De fato, a racionalidade de uma discussão é indispensável, considerando que essa
característica tem aspectos semelhantes nos diversos indivíduos humanos, e, para que
haja comunicação, é necessário que os `pensares' tenham traços comuns. (...) Se,
1
O leitor interessado poderá encontrá-los, por exemplo, em Cavalcanti Neto (2010, 2009, 2008).
-2-
12º Congreso Virtual de Psiquiatría. Interpsiquis 2011
www.interpsiquis.com - Febrero-Marzo 2011
Psiquiatria.com
REPERCUSIONES ÉTICAS DEL PROCESO
CERTEZAS: UN ENFOQUE TOMISTA.
PSICOLÓGICO
DE
FORMACIÓN
DE
entretanto, pudermos perceber que é a razão do coração, isto é, o sentimento, muitas
vezes não percebido e menos ainda declarado, que condiciona esses enfoques opostos
com relação à abreviação da vida, uns sentindo-a como um dever do qual não se pode
abrir mão, e outros percebendo-a como algo pertencente ao sujeito humano (...),
ainda que a divergência se mantenha, defensores e opositores saberão por que estão
discordando. Dentro dessa ótica, já se distingue uma visão ética autonomista,
opondo-se ao pensar deontológico tradicional, que é heteronomista. A valorização da
individualidade, já por definição impregnada de subjetivismo, é o suporte da Bioética
autonomista. (...) É mais uma vez um sentimento (o qual, enquanto sentimento, não
é ético nem antiético, simplesmente existe, não estando sujeito a qualquer juízo
apriorístico de valores). (...) É nesse sentido que a percepção das emoções
(principalmente das próprias) e a vivência psicanalítica oferece um excelente
instrumental para esse exercício aprofunda e enriquece a análise bioética (SEGRE,
2001, p. 20-21, itálicos do original).
Outro exemplo, ainda do mesmo autor, ajuda a explicitar tal cosmovisão. Em colaboração com
Cohen, Segre (2002, p. 22) afirma que "a moral é imposta, a ética é percebida". Em outros termos,
ético seria aquilo que cada indivíduo percebesse como tal, que lhe provocasse emoções afins ao que
lhe parece bom; e moral, aquilo que a sociedade, sob suas diversas facetas, lhe imporia.
Alguns autores alinhados com essa tendência procuram apoiar-se em Freud para compor suas
concepções ético-morais, tais como Segre (2001, 2002) e Cohen (2002), La Taille, Souza e Vizioli
(2004), ou Marcolino e Cohen (2008). Cohen (2002) recua mesmo sua distinção entre Moral e Ética
às origens do indivíduo e à sua relação com a sociedade:
Entendo que a ética é um problema pelo simples fato de que não nascemos éticos,
nascemos aéticos. Nos tornaremos éticos ou não, com a possibilidade do nosso
desenvolvimento psicossocial. Dito de outra maneira, é a construção do nosso
desenvolvimento humano que tem no seu interior a possibilidade de virmos a ser
éticos. Já a moral nos antecede enquanto indivíduos, ela é uma opção da sociedade,
que é imposta ao indivíduo. A moral nos ensina que devemos aceitar as funções
sociais, com suas regras e suas instituições, sendo que esses princípios deverão ser
introjetados pelo indivíduo (COHEN, 2002, p. 56).
Segre (2002), entretanto, parece explicitar melhor a fundamentação psicanalítica em que se baseia,
juntamente com seu co-autor, quando diz:
Fizemos considerações quanto a esse descentramento só poder ser tentado
(produzindo certa capacidade individual de abstração quanto às influências afetivas do
ambiente em que se vive, e à cultura prevalecente) através da experiência
psicanalítica mediante a qual se obtém acesso às próprias emoções, oferecendo-se a
possibilidade de, percebendo-as, valorá-las (hierarquizando-as, portanto, pelo seu
`peso' social) e se estabelecendo para cada indivíduo uma `self-ética' ou ética
resultante do desenvolvimento do Ego.
Esse conceito de Ética se contrapõe ao que chamamos de Moral, conforme já se expôs
em capítulo anterior, que resulta de juízos de valores impostos (pela família, pela
sociedade, pela religião, pelos códigos, escritos ou não) e que exclui a autonomia
(crítica) do indivíduo, trazendo embutida a idéia de prêmio (pelo ato `bom') ou de
castigo (pelo ato `mau'). A Moral é o resultado da obediência (o oposto da autonomia),
sendo representada, na pessoa, essencialmente pelo Superego.
A utilização da teoria e da vivência psicanalíticas para a nossa conceituação de Ética
pretende oferecer um instrumental psíquico, a cada pessoa, para discutir, questionar e
mesmo contestar todo ordenamento moral ou legal vigente, com o fim de obter uma
dinamização, na sociedade, do julgamento de valores das diferentes situações. Sem o
que, conforme tem ocorrido em muitas comunidades, a moral se torna imutável,
estanque, calcificada (SEGRE, 2002, p. 27-28).
Para alguns autores de orientação freudiana, portanto, a Ética seria egóica, enquanto que a Moral,
"superegóiga" (MARCOLINO & COHEN, 2008, p. 364). As correntes teóricas que dão primazia às
-312º Congreso Virtual de Psiquiatría. Interpsiquis 2011
www.interpsiquis.com - Febrero-Marzo 2011
Psiquiatria.com
REPERCUSIONES ÉTICAS DEL PROCESO
CERTEZAS: UN ENFOQUE TOMISTA.
PSICOLÓGICO
DE
FORMACIÓN
DE
emoções nas atitudes ético-morais não se restringem, contudo, à orientação psicanalítica. Porém,
nesta, a propensão para enfatizar o papel dos sentimentos aparece de modo mais explícito, razão
pela qual é destacada aqui.
Já os estudiosos que dão primazia à sinergia da razão com a vontade ao tratar de temas morais,
como Santo Agostinho (2001, 2002), São Tomás de Aquino (2001, 2002, 2003, 2005), Santo Afonso
de Ligório (1905), Royo Marín (1968), Boulenger (1950), Tanquerey (1932) e tantos outros, são em
geral tendentes a não fazer uma especial distinção entre Moral e Ética. Eles vêem-nas como o
conjunto objetivo de critérios nos quais devem pautar-se a inteligência e a vontade para operarem
em coerência com a essência e finalidades ontológicas do homem.
Há também um amplo espectro de autores mais contemporâneos, como Baertschi (2009), Brito
(2004), Vasquez (1998), Beauchamp e Childress (1994) ou Kohlberg (1992), que consideram Moral
e Ética quase como sinônimos, ou ao menos não se empenham em delimitar especiais distinções,
embora estejam longe de lastrear suas opiniões na Psicologia Tomista ou de se orientarem pela
predominância da razão sobre as emoções.
Mesmo os que, como Garrafa e Porto (2009, p. 9), se empenham em estabelecer distinções
conceituais, reconhecem que "representativo número de filósofos identifica as idéias de ética e
moral como sinônimas". Na realidade, alguns autores, como La Taille, Souza e Vizioli (2004),
Bruguès (1994) ou Ricoeur (1990, 1995), assinalam que tais distinções importam, muitas vezes,
mais em aspectos semânticos do que propriamente substanciais.
O fato é que, se considerarmos o assunto de modo linear, encontraremos, num dos pólos, autores
que se fundamentam no predomínio da razão e da vontade, nas decisões e atitudes de cunho éticomoral; no outro, os que se fundamentam na primazia das emoções, e, entre eles, uma vasta gama
intermediária.
Coincidência ou não, quanto mais os autores se aproximam do primeiro pólo, menos são tendentes
a fazer distinções entre Moral e Ética, e vice-versa quanto ao outro pólo, embora tais tendências não
possam ser consideradas como absolutas.
Sob certo aspecto, portanto, o enfoque tomista está no pólo racional-voluntarista. Uma análise mais
acurada, contudo, revela que sua contextualização comporta maior riqueza de aspectos do que uma
abordagem superficial poderia fazer crer. Em outros termos, ela leva em consideração de modo
singular o papel dos sentidos, tanto externos, quanto internos, e nestes, um em particular, a
cogitativa, como examinaremos mais adiante.
O papel da sensação do ser e do não-ser no enfoque tomista
Como comprova o exercício cotidiano da introspecção, um indivíduo pode "sentir" que uma
tendência ou uma ação é boa ou má, certa ou errada, mesmo que chegue a agir de modo contrário
a esse sentimento. No que consiste esse "sentir" que acompanha toda percepção moral? Será ele
sempre subjetivo, "relativístico", ou poderá, se retamente utilizado, conduzir a convicções éticomorais objetivas? Qual sua relação com o processo de formação de certezas, necessário para toda
tomada de decisões, especialmente nas atividades relacionadas com a saúde?
O exame da concepção aritotélico-tomista nos ajudará a responder tais questões. Tal exame terá a
vantagem de, ao mesmo tempo, ajudar-nos a entender a essência de cada uma das duas
cosmovisões acima enunciadas, e de já nos introduzir no conhecimento do processo psicológico de
formação das certezas.
São Tomás (2005, Summa Theol., I-II, q. 94, a. 2) concebe o conceito de ser como anterior a
qualquer outro, razão pela qual a primeira proposição que a mente humana formula ao tomar
contato com a realidade é: "algo existe".
Ainda sem uso da razão, a criança não é capaz de dar um nome para esse algo que ela percebe,
nem definir o ato de existir que lhe é inerente como o ato de ser, mas suas potências cognoscitivas
já são capazes de percebê-los.
Tal presença ou ausência não precisam de demonstração. O recém-nascido é capaz de captá-las:
chora quando está sozinho e acalma-se quando no regaço da mãe. Essa evidência inicial funciona
como um primeiro princípio baseado no qual toda a futura atividade intelectual se desenvolverá.
São Tomás ensina, portanto, que existe um primeiro princípio a partir do qual se desenvolverá todo
processo intelectivo-volitivo humano, e que o ente é o primeiro conceito que cai na apreensão desse
intelecto ainda em formação:
-412º Congreso Virtual de Psiquiatría. Interpsiquis 2011
www.interpsiquis.com - Febrero-Marzo 2011
Psiquiatria.com
REPERCUSIONES ÉTICAS DEL PROCESO
CERTEZAS: UN ENFOQUE TOMISTA.
PSICOLÓGICO
DE
FORMACIÓN
DE
Com efeito, o que primeiro cai na apreensão é o ente, cuja intelecção está inclusa em
todas aquelas coisas que alguém apreende. E assim o primeiro princípio
indemonstrável é que `não se pode afirmar e negar ao mesmo tempo', que se funda
sobre a razão de ente e não ente, e sobre esse princípio todas as outras coisas se
fundam, como se diz no livro 4 da Metafísica [de Aristóteles] (AQUINO, 2005, p. 562.
Summa Theol., I-II, q. 94, a. 2).
O Doutor Angélico (1980, De veritate, q. 10 a. 6 ad 6) esclarece que o conhecimento desse princípio
é inato, assim como o dos demais primeiros princípios. Eles estão na natureza humana como
"princípios das demonstrações evidentes por si, as quais são sementes da contemplação da
sabedoria, e os princípios de direito natural, que são sementes de virtudes morais" (AQUINO, 1980,
p. 92. De veritate, q. 14 a. 2, tradução nossa).
A capacidade de dar-se conta do ser, ou da sua ausência, ocorre juntamente com o que GarrigouLagrange (1944, p. 330) chama de "primeiro olhar" de nossas faculdades cognoscitivas, que no caso
do recém-nascido praticamente se limitam aos sentidos.
Por essa razão, ao chegar aos primeiros lampejos do uso da razão, em função desse princípio
fundamental, a criança é capaz de formular, ainda que de modo muito incipiente, a idéia de que
uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Nisso consiste a formulação do princípio de
não-contradição, que São Tomás (2005, Summa Theol., I-II, q. 94, a. 2) considera o mais básico,
dependente da apreensão do ser e das noções de ser e de não-ser, primitivas e não derivadas de
nenhuma outra.
Os tomistas chamam de princípio de identidade a formulação positiva do princípio de nãocontradição. Ele pode ser enunciado nos seguintes termos: o que é, é; o que não é, não é. Ou, todo
ser é aquilo que é, e, na sua existência, cada ser é separado dos outros seres.
Apoiada nesses dois princípios básicos, a razão especulativa formula espontaneamente um terceiro,
chamado de princípio do terceiro excluído. Dado que não se pode admitir simultaneamente o ser e o
não-ser para um mesmo objeto num mesmo intervalo de tempo, a mente humana constata que não
há uma terceira posição: todo ser, ou é ou não é. Não existe um semi-ser.
Com base nas explicitações de São Tomás sobre os primeiros princípios fundamentais, os tomistas
deduzem ainda outros, como o da razão suficiente, o da contingência, o da finalidade e os da
causalidade. Ultrapassaria, porém, os limites do presente estudo um maior aprofundamento sobre
os mesmos. Remetemos o leitor interessado a autores especializados, como Clá Dias (2009), Derisi
(1979), Garrigou-Lagrange (1944) ou Webert (1927).
O que nos interessa no momento é verificar que, com base na Filosofia aristotélico-tomista, pode-se
comprovar que o ser humano é capaz de captar, "sentir" a presença ou ausência do ser mesmo
antes do uso da razão. E que, como próximo passo, ele pode relacionar esta presença com o bem, e
sua ausência com o mal.
Relação entre conhecimento do ser e conhecimento do bem
Encontramos na Obra do Doutor Angélico diversas referências à razão especulativa e à prática,
divisão didática de que ele se serve para delinear o funcionamento da potência intelectiva: a
primeira voltada para a consideração de objetos teórico-abstratos, e a segunda dos concretos.
Vem ao nosso propósito averiguar as conseqüências do funcionamento do primeiro princípio
fundamental, o da não-contradição, que São Tomás situa dentre os da razão especulativa, como
fonte para o primeiro princípio da razão prática. A esse respeito o Aquinate ensina que
Assim como o ente é o primeiro que cai na apreensão de modo absoluto, assim o bem
é o primeiro que cai na apreensão da razão prática, que se ordena à obra: todo
agente, com efeito, age por causa de um fim, que tem razão de bem. E assim, o
primeiro princípio na razão prática é o que se funda sobre a razão de bem que é `Bem
é aquilo que todas as coisas desejam'. Este é, pois, o primeiro princípio da lei, que o
bem deve ser feito e procurado, e o mal, evitado. E sobre isto se fundam todos os
outros preceitos da lei da natureza (AQUINO, 2005, p. 562. Summa Theol., I-II, q.
-512º Congreso Virtual de Psiquiatría. Interpsiquis 2011
www.interpsiquis.com - Febrero-Marzo 2011
Psiquiatria.com
REPERCUSIONES ÉTICAS DEL PROCESO
CERTEZAS: UN ENFOQUE TOMISTA.
PSICOLÓGICO
DE
FORMACIÓN
DE
94, a. 2.).
Em outros termos, "assim como o primeiro olhar da inteligência tem como objeto o ser, e leva à
verdade, o primeiro olhar da vontade leva ao bem -- ou àquilo que convém ao ser" (CLÁ DIAS,
2009, p. 83, itálicos do original). Isto significa que o ser humano, por sua própria natureza, tenderá
a identificar como bom tudo aquilo que favorece o ser, e como mau, tudo o que possa prejudicar o
ser. Nasce daqui toda sua atividade judicativa moral.
Garrigou-Lagrange (1944), porém, ressalta que, no contexto da Obra de São Tomás, deve-se
entender o bem não apenas como um bem deleitável ou útil, mas aquele que se pode chamar de
bem racional ou moral, ou seja, ao qual estão ordenadas nossas potências intelectivas e volitivas. É
por esse motivo que o deleite de uma droga alucinógena não pode ser considerado um bem
verdadeiro, dado que acarreta uma série de "ausências de ser" na saúde mental e física, no
relacionamento social e profissional, bem como nos respectivos desempenhos e desenvolvimentos.
A potência cogitativa e o conhecimento pré-racional
Como é possível que a criança ainda sem o uso da razão seja capaz de dar-se conta do ser ou do
não-ser, dado que seu desenvolvimento neurológico não lhe permite ainda fazer uso da potência
intelectiva?
A questão é resolvida por São Tomás (apud BRENNAN, 1960, 1969) sem dificuldade. Ele subdivide a
faculdade cognoscitiva humana em dois grandes gêneros: o das potências cognoscitivas intelectivas
e o das sensitivas. Estas últimas englobam os sentidos externos (visão, audição, olfação, paladar e
tato) e os internos (sentido comum, imaginação, memória e cogitativa).
A noção de sentidos internos lança um jorro de luz no equacionamento da questão.Sua existência
pode ser comprovada pelo mero exercício da introspecção acessível a qualquer pessoa no uso
normal de suas faculdades bem como pelos seus efeitos.
Brennan (1960, 1969) e Faitanin (2008), por exemplo, oferecem informações abundantes sobre os
mesmos. Por amor à brevidade, deter-nos-emos aqui mais especificamente sobre o último e mais
elevado desses sentidos internos, que é a cogitativa.
Segundo São Tomás (Summa Theol. p. I, q. 78, a. 4 apud BRENNAN, 1969, p. 233) ela "é a
faculdade de perceber, sem exercício ou experiência prévia, tanto as coisas úteis como as nocivas
para o organismo". Ele a chama de cogitativa por duas razões: para distinguir da potência análoga
existente nos animais irracionais, que denomina de estimativa, e porque, no ser humano, ela atua
em estreita colaboração com a inteligência.
Esta é a razão, aliás, pela qual este sentido tem um papel muito mais importante para a
sobrevivência do animal do que para a do homem. Sem embargo, antes do uso da razão, ela tem
um papel tão vital para a criança em desenvolvimento quanto para os animais, dada a analogia de
situações.
Tanto os sentidos externos quanto os internos contribuem para o funcionamento da
estimativa/cogitativa, já que elas utilizam dados provenientes de todos eles. Sem deixar de ser um
sentido, seu funcionamento é parecido com uma compreensão, e isto até mesmo, em grau menor e
não-racional, nos animais.
Vale distinguir, entretanto, que função da mente é captar as relações abstratas existentes entre os
seres, enquanto que a da estimativa/cogitativa é captar as relações concretas existentes entre os
objetos, avaliando sua utilidade ou nocividade, em outros termos, seu valor biológico.
A atividade instintiva baseia-se, primordialmente, na potência estimativa/cogitativa. Conforme
Brennan (1969) tal atividade tem três elementos: 1º) Elemento cognoscitivo, que é aquele fornecido
primariamente pela cogitativa, relacionado com a utilidade ou nocividade de um objeto. 2º)
Elemento afetivo ou emotivo, que é a experiência de uma emoção como resultante desse
conhecimento. 3º) Elemento cinético ou motor, que é a conduta motora decorrente da natureza do
conhecimento e das emoções que a originam.
Esse conhecimento propiciado pela cogitativa é chamado de conhecimento por conaturalidade (CLÁ
DIAS, 2009), porque identifica aquilo que é de acordo com nosso ser, com nossa natureza, como
bom, e o que lhe é contrário, como mau. Trata-se, portanto, de uma espécie de conhecimento
instintivo, muitas vezes chamado de sexto sentido pela linguagem popular.
Ele não é incompatível com o conhecimento racional, embora normalmente o preceda. Pelo
contrário, a partir do uso da razão, será um dos elementos fundamentais para o processo
-612º Congreso Virtual de Psiquiatría. Interpsiquis 2011
www.interpsiquis.com - Febrero-Marzo 2011
Psiquiatria.com
REPERCUSIONES ÉTICAS DEL PROCESO
CERTEZAS: UN ENFOQUE TOMISTA.
PSICOLÓGICO
DE
FORMACIÓN
DE
cognoscitivo humano, bem como para o seu ciclo de vida consciente (BRENNAN, 1969): conhecer,
apetecer (ou rejeitar), e agir.
A cogitativa nos dá, portanto, o senso do ser. Tal senso nos é dado, primordialmente, pelas
informações que lhe chegam através dos demais sentidos, e será complementado pela luz da razão,
quando esta raiar no horizonte mental da criança. Assim ela se tornará capaz de explicitar os
primeiros princípios especulativos acima referidos, e de empregar o primeiro princípio da razão
prática, que a levará a desejar o bem moral e a rejeitar o mal.
O senso do ser será tanto mais vivo quanto mais inocente seja a criança, ou quanto mais ele esteja
preservado no adulto (CLÁ DIAS, 2009). Ele lhe dará uma evidência primeira do que é bom ou do
que é mau, porque conatural com seu ser ou adverso a ele. Eis aqui a base psicológica do processo
de formação de certezas.
É apoiado nesse processo que qualquer ser humano, no uso normal de suas faculdades físicas e
mentais, será capaz de perceber, como que instintivamente, o acerto ou o erro de uma concepção,
proposição ou ação.
Mesmo quando em contradição com essa percepção primeira, no mais fundo de seu psiquismo, sua
consciência moral continua a funcionar em conformidade com esta sua constituição ontológica, como
tanto a introspecção individual quanto a experiência social e histórica o podem comprovar.
Antes de analisarmos o desenvolvimento desse processo, entretanto, examinemos uma objeção
metodológica que se poderia apresentar.
Objeção metodológica
Os modernos critérios de metodologia científica requerem a comprovação experimental para validar
uma teoria. Ora, os argumentos até aqui apresentados são de cunho primordialmente especulativofilosófico. Como pretender sua validação acadêmica?
A escolha de uma argumentação prevalentemente teórica deve-se, antes de tudo, a uma questão de
fato: a literatura experimental relacionada ao tema não é muito vasta, ao menos aquela a que
pudemos ter acesso. Isso talvez se deva, entre outras razões, a outra questão de fato: a mesma
criteriologia experimental hodierna é tendente a não levar em conta os temas filosóficos quando da
escolha de suas questões de pesquisa.
Estabelece-se, assim, uma espécie de círculo vicioso. Como não se dá preferência a temas
filosóficos, não existem muitos trabalhos de cunho experimental relacionados com eles. E como
estes não são abundantes, conclui-se que aqueles não são cientificamente validáveis...
Porém, se a lógica é válida para a metodologia experimental, ela também o será para a teórica. E,
portanto, uma metodologia baseada na análise e no raciocínio teórico lógico pode ser tão válida
quando aquela que se baseia na mesma lógica para avaliar resultados experimentais.
Tanto mais que a teoria objeto de nossa atenção é baseada, remotamente, numa metodologia
experimental de reconhecido valor, denominada introspecção. Ou seja, São Tomás e Aristóteles
desenvolveram o que chamamos de Psicologia Tomista apoiados na metodologia da observação
introspectiva, como o demonstra Brennan (1960, 1969).
O próprio leitor poderá fazer, se desejar, uma experiência muito simples e acessível com a
metodologia introspectiva. Para constatar a existência e a veracidade desses primeiros princípios no
espírito humano, basta tentar excluí-los ou negá-los em qualquer raciocínio que tente fazer,
especialmente o de não-contradição. O maior dos cientistas ou o mais rude lavrador ver-se-ia
refutado por suas próprias palavras se tentasse persuadir alguém afirmando teses contraditórias em
si mesmas.
Dado que a validade científica da introspecção já foi objeto de outro estudo nosso (CAVALCANTI
NETO, 2009), dispensamo-nos de maiores comentários, remetendo para ele o leitor interessado.
Entretanto, além do referencial teórico, foi-nos dado encontrar alguma literatura de cunho
experimental relacionada ao tema. Apesar de não ser tão vasta quanto seria de desejar, ela fornece
elementos dignos de atenção.
Um desses trabalhos relata os experimentos levados a cabo em 2007 pela equipe de Paul Bloom,
psicólogo do Infant Cognition Center da Universidade de Yale, em Connecticut (EUA). Nele,
expuseram-se bebês, com idades variáveis entre seis e dez meses de idade, a uma representação
com marionetes de madeira nas quais uns figurantes ajudavam e outros prejudicavam os demais
personagens. No final se lhes oferecia escolher entre os figurantes. Apesar de ainda não disporem
do uso da razão, 80% das crianças participantes do estudo escolheram os que ajudavam,
-712º Congreso Virtual de Psiquiatría. Interpsiquis 2011
www.interpsiquis.com - Febrero-Marzo 2011
Psiquiatria.com
REPERCUSIONES ÉTICAS DEL PROCESO
CERTEZAS: UN ENFOQUE TOMISTA.
PSICOLÓGICO
DE
FORMACIÓN
DE
associados, portanto, ao conceito de bem ou de bons. E quando estimuladas a optar entre
personagens neutros ou que prejudicavam, preferiam os neutros.
Os pesquisadores, Hamlin, Wynn e Bloom (2007, p. 557), concluíram que tais resultados
"constituem evidências de que crianças pré-verbais avaliam indivíduos com base no seu
comportamento em relação aos outros", e que esta capacidade "pode servir como base para o
pensamento e a ação moral, e seu aparecimento precoce no desenvolvimento apóia a idéia de que a
avaliação social é uma adaptação biológica".
Em outro experimento, Victoria Talwar, da McGill University (em Montréal), e Kang Lee, da
University of Toronto, examinaram a capacidade de mentir em crianças de 3 a 8 anos de idade, bem
como sua relação com o desenvolvimento cognitivo e social delas. Entre outras observações, Talwar
e Lee (2008) constataram que quanto mais novas as crianças, menor sua tendência para mentir ou
para sustentar a mentira.
Convém ressaltar que o teste era muito simples: pedia-se à criança que não olhasse para um
brinquedo enquanto o examinador estava fora, registrava-se seu comportamento através de uma
câmara oculta de TV enquanto este último saía, e avaliavam-se suas respostas quando ele voltava.
Embora o desenvolvimento neurológico das mais novas fosse inferior ao das mais velhas, era mais
que suficiente para obedecer ou desobedecer ao pedido, e para responder sim ou não à pergunta
sobre se olhou para o brinquedo enquanto estava sozinha.
Transpondo para a terminologia tomista, podemos concluir que, quanto mais próximas do seu senso
do ser original, menos as crianças examinadas eram tendentes a um comportamento incompatível
com o primeiro princípio da razão prática. Ou seja, que, também nesse caso, nossa fundamentação
teórica encontra comprovação experimental.
Como o conhecimento por conaturalidade contribui para e formação das certezas
Examinada a sobredita objeção, analisemos um pouco mais o processo de formação de certezas,
procurando discernir como o conhecimento por conaturalidade se relaciona com ele.
Brennan (1969) recorda que a potência cogitativa está na base da atividade instintiva e que esta é
de cunho psicossomático. Em seu componente psíquico, encontramos o sentido estimativo ou
cogitativo, que dá um primeiro conhecimento (complementado, no homem, com a razão),
acompanhado de imagens, sobre o que pode ou deve fazer. Encontramos também o apetite
sensitivo, que dá origem às emoções, e a potência locomotora, que dá origem ao comportamento
motor instintivo2.
Seu elemento somático se verifica pela necessidade da existência e maturação dos sistemas
receptor-efetor-conector, que garantem o componente biológico do comportamento (BRAGHIROLLI
et al., 2005). Como exemplo, podemos lembrar que um pássaro não voa nem um cão ataca senão
depois de suficientemente crescidos.
Caso ambos os elementos, o psíquico e o somático, estejam normais e saudáveis, o instinto tende a
funcionar sem falhas. É por isso que um castor faz sua represa como se conhecesse os princípios
hidráulicos, uma aranha tece sua teia sob um modelo de espiral logarítmica, ou um pássaro compõe
seu ninho como se fosse capaz de escolher entre os materiais adequados e os impróprios.
Aos seres humanos, o senso do ser dará um primeiro movimento para perceber o que é bom, belo e
verdadeiro, ou seja, inteiramente conatural com o ser, e para optar por isto. Levar-nos-á também a
rejeitar o que lhe é contrário, ou incompletamente conatural com o ser, ainda que lhe forneça algum
prazer. Este primeiro movimento poderá ser seguido ou não, pois ele não invalida o livre-arbítrio,
mas ocorrerá sempre que encontre as referidas condições de saúde e equilíbrio.
Também como via de regra, tal conhecimento cogitativo deve ser reforçado pelo intelectivo. O que
não significa, contudo, que nossa inteligência não possa forjar argumentos contrários ao que lhe
indica seu senso do ser. E tanto mais ela o fará quanto mais sua vontade tenha se habituado a não
desejar aquilo que é plenamente conatural com o bem, mas aquilo que apenas contente alguns de
seus apetites, sejam concupiscíveis, sejam irascíveis (BRENAN, 1969)3.
2
Vide maiores informações sobre os apetites e a potência locomotora na nota de número 4.
3
O referido autor esclarece que, segundo São Tomás, o ser humano possui as potências cognoscitivas, já descritas, as
apetitivas, a locomotora e a vegetativa. As apetitivas dividem-se em três: 1º) apetite racional ou vontade livre; 2º) apetite
-812º Congreso Virtual de Psiquiatría. Interpsiquis 2011
www.interpsiquis.com - Febrero-Marzo 2011
Psiquiatria.com
REPERCUSIONES ÉTICAS DEL PROCESO
CERTEZAS: UN ENFOQUE TOMISTA.
PSICOLÓGICO
DE
FORMACIÓN
DE
Quanto mais estes últimos predominarem sobre o que lhe indica sua reta razão, e a sua vontade, ou
apetite racional, ceder a essas injunções apetitivas inferiores, tanto mais a evidência do bem
original, oferecida pelo seu senso do ser, tenderá a desaparecer ou ofuscar-se. Em outras palavras,
quando tomamos conhecimento de algum fato ou objeto que tenha alguma implicação ou
conseqüência moral, nosso senso do ser, movido pela cogitativa, nos fará "sentir" o que devemos
fazer como que instintivamente.
Competirá ao nosso intelecto analisar esse primeiro movimento para ver se de fato ele é conforme
com a reta razão, ou seja, se de fato levará ao pleno favorecimento do ser (tanto nosso quanto dos
demais). Pois por mais que, em seu funcionamento normal, ele tenda ao acerto, a confluência de
outras variáveis, tanto internas quanto externas, poderá condicioná-lo de modo desfavorável.
Essa análise racional procede da potência intelectiva. Os atos que ela propicia são a simples
apreensão, ou formação de idéias, o juízo, que compara duas idéias, e a inferência, que compara os
juízos entre si para chegar às conclusões (BRENNAN, 1969).
O conhecimento por conaturalidade, referendado pela análise racional, reforçará o hábito da vontade
de agir em consonância com a razão, e isto propiciará uma sensação interna de harmonia e
segurança, também ela formada por conaturalidade, que costumamos chamar de certeza.
Acepção completa e falhas do processo de formação de certezas
Segundo São Tomás (apud BRENNAN, 1960, 1969) a ideogênese ou simples apreensão é o primeiro
dos atos da potência intelectiva, e resulta de uma cadeia de atos cognoscitivos sensitivos,
propiciados por suas respectivas potências.
Assim, os sentidos externos oferecem os diversos tipos de sensações, e o sentido comum (que é o
primeiro dos internos) os sintetiza produzindo a percepção. Baseadas nesta, a imaginação e a
memória formam as imagens ou representações mentais dos objetos, e o mais elevado dos sentidos
internos, que é a cogitativa, dá o "acabamento" dessas imagens associando-lhes a avaliação da sua
nocividade ou utilidade ao ser.
Sobre essa imagem atuará a inteligência, abstraindo suas características singulares para formar a
idéia abstrata correspondente à essência do objeto percebido, voltando, em seguida à mesma
imagem, para conhecer também suas características singulares e assim formar a primeira apreensão
do objeto conhecido.
Em seu funcionamento normal, essa primeira apreensão tenderá a ser inequívoca. Ao ver e ouvir um
cão que ladra, uma pessoa saudável não formará a idéia de um peixe ou de um elefante. Os erros
do conhecimento sensitivo se darão apenas nos portadores de alguma enfermidade sensitiva
(cegueira, surdez, etc.), ou do conhecimento perceptivo (ilusões) ou do imaginativo (alucinações).
É por essa razão que São Tomás (1980, De Veritate, I, 11) ensina que tanto a verdade quanto o
erro podem se encontrar nos sentidos, pelo menos enquanto a percepção concreta das qualidades
sensíveis imita o juízo da inteligência. Acrescentando que tanto uma quanto o outro não podem ser
conhecidos apenas pelos próprios sentidos, pois estes são incapazes de reflexão sobre si mesmos
devido à sua materialidade, ao contrário da inteligência (idem, ibidem, I, 9).
O segundo gênero de atos da potência intelectiva é a formação dos juízos, que consiste na
comparação das idéias assim produzidas. No momento de formar juízos, entretanto, o ser humano é
mais passível de erro. E esse erro tenderá a ser tanto maior e mais freqüente, conforme analisamos
acima, quanto mais a inteligência e a vontade estejam habituadas a ceder às injunções do apetite
sensitivo.
Na medida em que os juízos sejam formados com base no devido funcionamento hierárquico das
potências, ou seja, com a inteligência governando a vontade, e esta, o apetite sensitivo, os sentidos
sensitivo, que se subdivide em concupiscível (quando se volta para bens de fácil obtenção) e irascível (quando de difícil
obtenção); e 3º) apetite natural, que está relacionado com as funções vegetativas. A experiência quotidiana mostra que os
apetites inferiores com freqüência colidem com o racional, e é a esse choque que se faz referência aqui. A potência locomotora
faculta as atividades motoras, inclusive ao nível instintivo, e a vegetativa, as relacionadas com a nutrição, o desenvolvimento e
reprodução, em seu nível vegetativo.
-912º Congreso Virtual de Psiquiatría. Interpsiquis 2011
www.interpsiquis.com - Febrero-Marzo 2011
Psiquiatria.com
REPERCUSIONES ÉTICAS DEL PROCESO
CERTEZAS: UN ENFOQUE TOMISTA.
PSICOLÓGICO
DE
FORMACIÓN
DE
e as emoções, tais juízos tenderão a ser conaturais com a propensão ao acerto inerente ao seu
saudável funcionamento.
A certeza, em sua acepção completa, é, portanto, um assentimento firme dado a um juízo. Ela será
ou não legítima na medida em que "os motivos intelectuais em que se funda sejam ou não
realmente suficientes, conduzam ou não realmente o espírito à verdade", como assevera Collin
(1951, p. 14), não sem antes ter recordado que verdade, na formulação de Isaac Israeli4 (apud
COLLIN, 1951, p. 8) é a "adequatio rei et intellectus", a adequação entre a coisa e a inteligência que
a conhece.
Collin (1951) distingue a certeza absoluta, ou metafísica, da hipotética. Ela será absoluta quando o
motivo que temos para prestar o assentimento da razão se apóia numa necessidade metafísica,
como ocorre quando se afirma que o todo é maior do que a parte.
E será hipotética quando o motivo do assentimento é uma lei necessária, mas que admite possíveis
exceções. Essa lei poderá ser física ou moral. No primeiro caso se fundamenta a certeza física,
como, por exemplo, a que temos de que os corpos sofrem os efeitos da gravidade, embora esta
possa admitir exceções, como a de um pesado avião que decola.
A lei será moral quando, além de admitir exceções, expressar a atividade natural dos seres
inteligentes e livres. Nela se funda a chamada certeza moral. É assim que, de modo geral, não
precisamos nos preocupar com que uma mãe vá assassinar seu filho, dada a lei moral e natural que
as leva a amá-los, embora trágicas e monstruosas exceções possam se verificar.
Tais exceções não destroem a certeza legítima, embora hipotética, que se pode ter quando um fato
ou objeto está submetido a uma lei física ou moral, embora deva-se contar com a possibilidade
circunstancial de uma exceção.
Collin (1951) ressalta ainda que, embora o primeiro sentimento procedente do conhecimento por
conaturalidade tenda a ser verdadeiro, desde que o indivíduo não esteja previamente habituado a
falseá-lo, ele não é suficiente para a aquisição plena da certeza, seja ela metafísica ou moral.
Ela só será legítima quando determinada não apenas por uma impressão afetiva pessoal, senão por
um motivo procedente do próprio objeto para o qual ela se volta, e que possa, em conseqüência,
impor-se a qualquer outra inteligência capaz de compreendê-la. Esse motivo ou condição necessária
é que o objeto se faça ver com evidência, apareça como o juízo racional diz que ele é.
A evidência do objeto poderá ser de dois tipos: intrínseca ou extrínseca. Será intrínseca
Se a conveniência dos termos da proposição aparece por si mesma, sem nenhum
intermediário lógico, à luz da experiência concreta ou de uma simples comparação do
predicado com o sujeito (evidência imediata), ou ainda em sua relação de
conseqüência com certos princípios (evidência mediata das conclusões do raciocínio)
(COLLIN, 1951, p. 17, tradução nossa).
E será extrínseca, ou de credibilidade, "quando o objeto inevidente em si mesmo se faz
evidentemente crível em razão da autoridade de testemunhas dignas de crédito" (idem, ibidem).
Embora as certezas, em sua acepção completa, já se estabeleçam na formação dos juízos, elas
podem ou não estar presentes também no terceiro gênero de atos da potência intelectiva, que são
as inferências ou raciocínios.
Assim como os juízos consistem na comparação dos conceitos, os raciocínios são o fruto da
comparação de juízos para chegar a uma ou mais conclusões. Naturalmente, quanto maior o grau
de certeza de cada juízo individualmente considerado, tanto maior será o da inferência a que se
chega por meio da comparação entre eles.
4
Médico e filósofo judeu que viveu no Egito, no século X (MORA, 2001).
-10-
12º Congreso Virtual de Psiquiatría. Interpsiquis 2011
www.interpsiquis.com - Febrero-Marzo 2011
Psiquiatria.com
REPERCUSIONES ÉTICAS DEL PROCESO
CERTEZAS: UN ENFOQUE TOMISTA.
PSICOLÓGICO
DE
FORMACIÓN
DE
Considerações finais
As vias de reflexão e de pesquisa que se abrem com base nas precedentes considerações são, a
bem dizer, incontáveis. Pois, assim como se pode falar de uma epistemologia dialética5, baseada,
com maior ou menor consciência, na negação do princípio de não-contradição, poder-se-ia falar de
uma epistemologia ontológica6.
O desenvolvimento desta última precisaria ser feito com base na validade ontológica dos primeiros
princípios da razão especulativa, como critério para uma teoria do conhecimento, e na equivalente
legitimidade do primeiro princípio da razão prática, como fundamento de um corpo doutrinário éticomoral. Essa temática daria lugar para várias teses de natureza doutoral, tanto no campo teórico
quanto no experimental.
De momento, e com base nos tópicos acima analisados, podemos limitar-nos à constatação de que o
ser humano é capaz, por sua própria estrutura ontológica, de discernir o acerto e o erro nas diversas
alternativas ético-morais que se lhe apresentam em suas atividades quotidianas, sejam elas quais
forem, embora tal capacidade comporte limitações..
Podemos constatar também que tal discernimento tem as condições necessárias para ser objetivo e
adequado à realidade dos fatos. E que tais condições se apóiam na capacidade humana de perceber
até mesmo antes do uso da razão, ainda que imperfeitamente aquilo que favorece ou prejudica
o ser, associando o primeiro com o bem, e o segundo com o mal.
No caso dos profissionais de saúde, onde tais dilemas se põem com uma freqüência e dificuldade
cada vez maior em nossos dias, a consciência de tal capacidade é fator de segurança e equilíbrio, os
quais, por sua vez, podem favorecer de modo retroativo essa mesma capacidade.
A transposição das constatações acima referidas para nossas atividades clínico-diagnósticas reforça
a convicção do acerto das decisões que favorecem o ser, ou seja, a existência, a vida, seu
desenvolvimento, sua plenitude. Elas podem servir-nos, portanto, como matriz de sólida
fundamentação filosófica para a análise dos mais diversos tipos de questões éticas que a prática
clínica nos apresenta quotidianamente.
O exame dessa casuística se apresenta, ademais, como instigante campo de pesquisa para os que
se interessam pelos aportes da Psicologia Tomista à análise das referidas questões, ficando assim
aberto o convite para o debate e aprofundamento dos mesmos.
5
Vide, por exemplo, Borges e Dalberio (2007), Brennand (s.d.), Hartmann (2004), Hegel (1983), Ianni (1984),
Severino (2001).
6
Compreendida, naturalmente, dentro do contexto aristotélico-tomista e não nos sentidos que lhe dão Fichte (1980),
Berkerley (1979), ou Kant (1965), por exemplo, nem como pode ser entendida em trabalhos mais recentes e menos
conhecidos, como os de Castro (2006), Ferreira (2003), Freire (2001) ou Martins (1999).
-1112º Congreso Virtual de Psiquiatría. Interpsiquis 2011
www.interpsiquis.com - Febrero-Marzo 2011
Psiquiatria.com
REPERCUSIONES ÉTICAS DEL PROCESO
CERTEZAS: UN ENFOQUE TOMISTA.
PSICOLÓGICO
DE
FORMACIÓN
DE
Referências
AGOSTINHO, Santo Aurélio. Confissões. Trad. Maria Luiza Jardim Amarante. São Paulo: Paulus,
2002.
______. Diálogo sobre o livre arbítrio. Trad. Paulo Oliveira e Silva. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2001.
ALIBERT, C. La psychologie thomiste et les théories modernes. Paris: Beauchesne, 1903.
AQUINO, São Tomás de. Suma Teológica. Vol. IV. São Paulo: Loyola, 2005.
______. ______. Vol. III. São Paulo: Loyola, 2003.
______. ______. Vol. II. São Paulo: Loyola, 2002.
______. Comentario a la Ética a Nicómaco de Aristóteles. 2. ed. rev. y corr. Trad. Ana Mallea.
Pamplona: EUNSA, 2001.
______. De veritate. In Sancte Thomae Aquinatis Opera Omnia. Coord. Roberto Busa. t. 3.
Torino: Aloisianum, 1980.
BAERTSCHI, Bernard. Ensaio filosófico sobre a dignidade. Antropologia e
biotecnologias. Trad. Paula Silva Rodrigues Coelho da Silva. São Paulo: Loyola, 2009.
ética
das
BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. (2002). Principles of Biomedical Ethics. 5. ed.
Oxford: Oxford University Press, 2001.
BERKELEY, George. The works of George Berkeley Bishop of Cloyne. 9 vols. Editado por A. A.
Luce e T. E. Jessop. Nendeln/Liechtenstein: Kraus Reprint, 1979.
BORGES, Maria; DALBERIO, Osvaldo. Aspectos metodológicos e filosóficos que orientam as
pesquisas em educação. Rev. Iberoamericana de Educación, n. 43/5, 2007. Disponível em:
http://www.rieoei.org/deloslectores/1645Borges.pdf. Acesso em: 14/6/2010
BOULENGER, Auguste. Manual de Apologética. 2. ed. Porto: Apostolado da Imprensa, 1950.
BRAGHIROLLI, Elaine Maria; BISI, Guy Paulo; RIZZON, Luiz Antônio; NICOLETTO, Ugo. Psicologia
geral. 25. ed. Petrópolis: Vozes, 2005
BRENNAN, Robert Edward, O. P. Psicología general. Trad. Antonio Linares Maza. 2. ed. Madrid:
Morata, 1969.
______. Psicología tomista. Trad. Efren Villacorta Saiz, O. P. Revisão José Fernandez Cajigal, O.
P. Ed. atualizada pelo Autor. Barcelona: Editorial Científico Médica, 1960.
BRENNAND, Edna. Buscando em Paulo Freire as concepções de indivíduo e mundo. Biblioteca digital
Paulo Freire, sem data. Disponível em:
http://www.paulofreire.ufpb.br/paulofreire/Files/revista/Buscando_em_Paulo_Freire_as_concepcoes
_de_individuo_e_mundo.pdf. Acesso em 14/6/2010.
BRITO, J. A ética e a autonomia da pessoa. In R. Nunes, M. Ricou e C. Nunes (Eds.) Dependências
individuais e valores sociais, p. 43-51. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 2004.
BRUGUÈS, Jean-Louis, O. P. Dizionario di morale cattolica. Trad. equipe de redação da Edizioni
Studio Domenicano. Bolonha: Edizioni Studio Domenicano, 1994.
CANTIN, Stanislas. Précis de psychologie thomiste. Québec: Université Laval, 1948
CASTRO, José Renato Gomes. Discussão epistemológica da produção de teses de programas
de pós-graduação na área de saúde reprodutiva. Tese de Doutorado. Campinas: UNICAMP,
2006.
Disponível
em:
http://ged1.capes.gov.br/CapesProcessos/927232-ARQ/927232_6.PDF.
Acesso em: 31/12/2010.
CAVALCANTI NETO, Lamartine de Hollanda. Psicologia geral sob o enfoque tomista. São Paulo:
Instituto Lumen Sapientiae, 2010.
______. La introspección cómo método de estudio en la psicología tomista. 2009. Disponível
em: http://www.psiquiatria.com/congreso/2009/otras/articulos/39155/. Acesso em: 25/2/2009.
-1212º Congreso Virtual de Psiquiatría. Interpsiquis 2011
www.interpsiquis.com - Febrero-Marzo 2011
Psiquiatria.com
REPERCUSIONES ÉTICAS DEL PROCESO
CERTEZAS: UN ENFOQUE TOMISTA.
PSICOLÓGICO
DE
FORMACIÓN
DE
______. Metodologia tomista no estudo da Psicologia. Lumen Veritatis, Jul-set /2008, n. 4, p.
111-119. Disponível em: http://www.arautos.org/view/show/6002-metodologia-tomista-no-estudoda-psicologia. Acesso em: 28/12/2010.
CLÁ DIAS, João Scognamiglio. La `primera mirada' del conocimiento y la educación: un estudio
de casos. Dissertação de Mestrado em Psicologia, ainda não publicada. Bogotá: Universidade
Católica de Colômbia, 2009.
COHEN, Cláudio. In SEGRE, Marco; COHEN, Cláudio (Orgs.). Bioética. 3. ed. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2002.
COLLIN, Henri. Manual de filosofia tomista. 2. ed. Vol. II. Barcelona: Luis Gili, 1951.
DERISI, Octavio N. Los fundamentos metafísicos del orden moral. 4. ed. Buenos Aires: El
Derecho, 1979.
FAITANIN, Paulo Sérgio. O papel dos sentidos internos na teoria do conhecimento de Tomás de
Aquino. Aquinate, n. 6, p. 234-241, 2008.
______.
A
psicologia
tomista.
Aquinate,
sem
data.
Disponível
em:
http://www.aquinate.net/portal/Tomismo/Filosofia/tomismo-filosofia-a-psicologia-tomista.htm.
Acesso em: 2/4/2008.
FERREIRA, Pedro Peixoto. Algumas reflexões sobre as conseqüências epistemológicas do uso
do conceito de `natureza humana'. Seminário Teórico-Metodológico em Ciências Sociais.
Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual de Campinas, IFCH/UNICAMP, 1º.
Semestre, 2003.
FICHTE, Johann Gottlieb. A doutrina da ciência de 1794 e outros escritos. Trad. Rubens
Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Abril, 1980 (Coleção Os Pensadores).
FINNIS, John Mitchell. Lei natural e direitos naturais. Trad. Leila Mendes. São Leopoldo:
UNISINOS, 2007.
FREIRE, Ana Maria Araújo. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos.
Interface
(Botucatu)
vol.5
n.8,
p.
147-152,
2001.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-32832001000100016&script=sci_arttext. Acesso em:
16/6/2010.
GALLO, Jorge Herrera. La psicología tomista en la actualidad. Sem data. Disponível em:
http://www.enduc.org.ar/comisfin/ponencia/102-06.doc. Acesso em: 17/11/2008.
GARRAFA, Volnei. PORTO, Dora. Bioética, poder e injustiça: por uma ética de intervenção.
Subsídio para o VI Congresso
Internacional de Bioética [2009]. Disponível em:
http://ava.ead.ftc.br/conteudo/circuito1/biologia/periodo5/03estagio_supervisionado_2/bloco1/tema1/anexos/ANEXO%2014%20%20Bio%E9tica,%20poder%20e%20injusti%E7a%20por%20uma%20%E9tica%20de%20interven
%E7%E3o.pdf. Acesso em 3/6/2010.
GARRIGOU-LAGRANGE, Réginald, O. P. El Sentido Común. La filosofia del ser y las fórmulas
dogmáticas. Buenos Aires: Desclée de Brouwer, 1944.
HAMLIN, J. Kiley; WYNN, Karen, BLOOM, Paul. Social evaluation by preverbal infants. Nature, Vol.
450, n. 22, p. 557-600, 2007. Disponível em:
http://pantheon.yale.edu/~kw77/HamlinWynnBloomNature2007.pdf. Acesso em: 15/5/2010.
HARTMANN, Hélio R. Movimentos do pensamento educacional de Paulo freire. Rev. Profissão
Docente [on line], vol. 2, n. 5, 2004. Disponível em:
http://www.revistajuridica.uniube.br/index.php/rpd/article/viewFile/52/59. Acesso em: 14/6/2010.
HEGEL, Georg Wilhelm F. La dialettica. Trad., introd. e notas de Cornelio Fabro. 4. ed. Brescia: La
scuola, 1983.
IANNI, Otávio. Epistemologia das ciências sociais. São Paulo: PUC/EDUC, Série Cadernos, n. 19,
1984.
KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. 4. ed. São Paulo: Brasil Editora, 1965.
KOHLBERG, Lawrence. Psicología del desarrollo moral. Bilbao: Desclée de Brower, 1992.
LA TAILLE, Yves de; SOUZA, Lucimara Silva de; VIZIOLI, Letícia. Ética e educação: uma revisão da
literatura educacional de 1990 a 2003. Educ. Pesqui. [online], vol.30, n.1, p. 91-108. 2004.
-1312º Congreso Virtual de Psiquiatría. Interpsiquis 2011
www.interpsiquis.com - Febrero-Marzo 2011
Psiquiatria.com
REPERCUSIONES ÉTICAS DEL PROCESO
CERTEZAS: UN ENFOQUE TOMISTA.
PSICOLÓGICO
DE
FORMACIÓN
DE
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151797022004000100006&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 6/5/2010.
LIGÓRIO, Santo Afonso Maria. Theologia Moralis. Roma: Leonard Gaudé, 1905.
MARCOLINO, José Álvaro M.; COHEN, Cláudio. Sobre a correlação entre a bioética e a psicologia
médica. Rev. Assoc. Med. Bras. vol.54 nº 4, p. 363-368, São Paulo, 2008. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-42302008000400024&script=sci_arttext. Acesso em:
14/6/2010.
MARTINS, André. Novos paradigmas e saúde. Physis [online], v.9, n.1, p. 83-112, 1999. Disponível
em : http://www.scielo.br/pdf/physis/v9n1/04.pdf. Acesso em: 16/6/2010.
MORA, José Ferrater. Dicionário de filosofia. v. 2. São Paulo: Loyola, 2001.
PEGORARO, Olinto Antônio. Ética dos maiores mestres através da história. Petrópolis: Vozes,
2006.
RICOEUR, Paul. Da metafísica à moral. Lisboa: Piaget, 1995.
______. Soi-même comme un autre. Paris: Seuil, 1990.
ROYO MARÍN, António. Teología de la perfección cristiana. 5. ed. Madrid: Biblioteca de Autores
Cristianos, 1968.
SEGRE, Marco. In PALÁCIOS, Marisa; MARTINS, André; PEGORARO, Olinto Antônio (Orgs.). Ética,
ciência e saúde: desafios da bioética. Petrópolis: Vozes, 2001.
______. In SEGRE, Marco; COHEN, Cláudio (Orgs.). Bioética. 3. ed. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2002.
SEGRE, Marco; COHEN, Cláudio (Orgs.). Bioética. 3. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São
Paulo, 2002.
SEVERINO, Antônio J. A pesquisa em educação: a abordagem crítico-dialética e suas implicações na
formação do educador. Contra Pontos, ano 1, n. 1, p. 11-22, 2001. Disponível em:
https://www6.univali.br/seer/index.php/rc/article/viewFile/14/6. Acesso em 14/6/2010.
TALWAR, Victoria; LEE, Kang. Social and Cognitive Correlates of Children's Lying Behavior. Child
Development, Vol. 79, n. 4, p. 866-881, 2008. Disponível em:
ht
IMPORTANTE: Algunos textos de esta ficha pueden haber sido generados partir de PDf original, puede sufrir variaciones de maquetación/interlineado, y omitir imágenes/tablas.
Articulos relacionados
-
Inteligencia Artificial en Psiquiatría. Una Guía Práctica para Profesionales de la Salud Mental Pedro Moreno Gea
Fecha Publicación: 29/10/2025-
Plan UNO Marisa Narváez
Fecha Publicación: 20/09/2025-
Propuesta de un protocolo psicoterapéutico para el Trastorno de Ansiedad Generalizada basado en el enfoque psicológico aristotélico-tomista Lamartine de Hollanda Cavalcanti Neto
Fecha Publicación: 18/05/2025-
Conflictos éticos y legales que plantea la atención de urgencias psiquiátricas en los servicios de urgencias. Una abogada resuelve las dudas que le plantea una médico de urgencias Vanesa Leiva Barrocal
Fecha Publicación: 18/05/2025-
¿Las convergencias y divergencias de la Terapia Cognitivo-Conductual con la Psicología Tomista ofrecen base para un ensayo clínico aleatorizado comparativo de sus efectividades terapéuticas? MARCELO O BORGES
Fecha Publicación: 18/05/2025-
Tratamientos no Farmacologicos del Dolor Cronico. Actualizacion y puesta al dia Fernando Martínez Pintor
Fecha Publicación: 18/05/2025
-
-
-
-
-